Cristiane Lasmar
Como já sugeri em artigos anteriores, o propósito mais pervasivo da chamada “ideologia de gênero” é promover a dissolução das noções de feminino e masculino, minando o padrão conjugal de complementariedade entre os sexos. O programa consiste, basicamente, em desfeminilizar as meninas e desvirilizar os meninos. Neste artigo, vou tratar especificamente do caso das meninas, que estão sendo expostas sem nenhuma defesa a uma torrente de mensagens desfeminilizantes vindas da mídia, da escola, e da indústria cultural. No final das contas, descontados todos os vernizes e recadinhos secundários, o conteúdo dessas mensagens é o seguinte: “para que sua existência seja validada pela sociedade, você precisa abrir mão de sua feminilidade.”
Um dos alvos prioritários desse discurso é a escolha da profissão. É bem sabido que as mulheres têm as suas carreiras prediletas. Em geral, predominam as profissões ligadas à docência e à saúde, à organização doméstica, ao cuidado de terceiros, e ao atendimento ao público em geral. Obviamente, nem todas as mulheres se encaixam nesse esquema. E, embora haja também áreas profissionais atraentes para ambos os sexos, a diferenciação vocacional é uma realidade inquestionável, que pode ser explicada pelo simples fato de homens e mulheres serem diferentes.
 Os promotores da ideologia de gênero insistem, porém, que a maior propensão das mulheres a buscar preferencialmente certas atividades resulta de um modelo de educação machista e impositivo, que as levaria a se conformar aos “estereótipos femininos tradicionais”. Ora, um tal raciocínio seria válido se estivéssemos discutindo casos como o das meninas da Índia, do Paquistão, da China ou da maioria dos países muçulmanos. Mas no Ocidente contemporâneo, principalmente nas zonas urbanas, esse viés já não existe há muito tempo. Ao contrário, todo o esforço da escola e da mídia, ao longo das últimas décadas, tem sido no sentido de borrar as diferenças entre os sexos e tratá-los como perfeitamente intercambiáveis. Ou seja, o que vem ocorrendo é o oposto do que quer nos fazer crer esse discurso vitimista.
Os promotores da ideologia de gênero insistem, porém, que a maior propensão das mulheres a buscar preferencialmente certas atividades resulta de um modelo de educação machista e impositivo, que as levaria a se conformar aos “estereótipos femininos tradicionais”. Ora, um tal raciocínio seria válido se estivéssemos discutindo casos como o das meninas da Índia, do Paquistão, da China ou da maioria dos países muçulmanos. Mas no Ocidente contemporâneo, principalmente nas zonas urbanas, esse viés já não existe há muito tempo. Ao contrário, todo o esforço da escola e da mídia, ao longo das últimas décadas, tem sido no sentido de borrar as diferenças entre os sexos e tratá-los como perfeitamente intercambiáveis. Ou seja, o que vem ocorrendo é o oposto do que quer nos fazer crer esse discurso vitimista.
 As meninas vêm sendo bombardeadas, de longa data, com uma intensa propaganda feminista cujo objetivo é lhes convencer não só de que devem colocar a vida profissional no centro de suas atenções, como também de que as profissões tidas como masculinas são mais interessantes que as outras. E, ainda assim, a maioria continua buscando profissões tradicionalmente femininas. O velho e batido argumento de que somos eternas vítimas de um sistema social opressor, que restringe as nossas opções, cai por terra à luz dos fatos reais.
As meninas vêm sendo bombardeadas, de longa data, com uma intensa propaganda feminista cujo objetivo é lhes convencer não só de que devem colocar a vida profissional no centro de suas atenções, como também de que as profissões tidas como masculinas são mais interessantes que as outras. E, ainda assim, a maioria continua buscando profissões tradicionalmente femininas. O velho e batido argumento de que somos eternas vítimas de um sistema social opressor, que restringe as nossas opções, cai por terra à luz dos fatos reais.
O caso dos países nórdicos é particularmente exemplar. Em 2008, a Noruega foi eleita o primeiro país do mundo em igualdade de oportunidades para homens e mulheres. Trata-se da educação mais igualitária do mundo. Mas, como bem demonstrou o jornalista Harald Eia no documentário “O Paradoxo da Igualdade”, apesar de todos os esforços no sentido de se eliminar qualquer fator material ou simbólico que possa infletir as escolhas de futuro dos estudantes, apenas 10% dos enfermeiros noruegueses são homens, ao passo que apenas 10% dos engenheiros são mulheres. Ou seja, as escolhas profissionais das mulheres norueguesas não podem ser explicadas por nenhum tipo de discriminação.
Mas a forma especificamente feminina de estar no mundo não se atualiza apenas na escolha da profissão. Ela se revela também no tipo de relação que as mulheres estabelecem com a carreira. Mesmo quando exercem profissões tidas como masculinas, elas costumam colocar mais limites do que os homens à quantidade de tempo e de energia que disponibilizarão para o trabalho fora de casa. E isso porque sabem que as suas possibilidades de realização existencial plena dependem de serem capazes de construir um lar estruturado e harmônico. A verdade é que a maioria das mulheres não quer abrir mão de cuidar pessoalmente dos filhos, mesmo que a profissão seja um aspecto importante de suas vidas.
Qualquer pessoa esclarecida sabe que a coletividade só tem a ganhar com a presença e a atuação das mulheres na esfera pública. Foi com isso em vista que, no final do século XIX e início do XX, mulheres corajosas e inteligentes lideraram, na Europa e nos Estados Unidos, movimentos em prol da ampliação dos direitos e dos espaços de atuação social femininos. Porém, estando em perfeita sintonia com a perspectiva das mulheres que representavam, as primeiras “feministas” sabiam que as conquistas femininas precisavam ser conciliáveis com as conveniências da vida familiar. Caso contrário, não seriam conquistas, e sim mera permuta infeliz de papéis. Duas coisas fundamentais eram levadas em consideração. Primeiro, o fato das crianças precisarem da atenção de suas mães. Segundo, que parte significativa do bem-estar subjetivo das mulheres está atrelada às suas obrigações morais para com a família.
 A partir dos anos 60, porém, houve uma ruptura e uma mudança de rumo. Com o respaldo intelectual de figuras então já consagradas, como a filósofa francesa Simone de Beauvoir, o chamado “feminismo da segunda onda” abraçou falsos pressupostos, dentre os quais o mais nocivo foi o de que cuidar dos filhos representa uma atividade menor. Em “O Segundo Sexo”, Beauvoir afirmou que a maternidade é uma espécie de maldição que pesa sobre a mulher, tornando-a “escrava da espécie” e confinando-a ao domínio da imanência. Ela desprezava a vocação materna com todas as suas forças e acreditava que qualquer possibilidade de transcendência feminina dependia da saída e do abandono do lar. Em certa ocasião, esse ícone do feminismo foi capaz de dizer a seguinte frase:
A partir dos anos 60, porém, houve uma ruptura e uma mudança de rumo. Com o respaldo intelectual de figuras então já consagradas, como a filósofa francesa Simone de Beauvoir, o chamado “feminismo da segunda onda” abraçou falsos pressupostos, dentre os quais o mais nocivo foi o de que cuidar dos filhos representa uma atividade menor. Em “O Segundo Sexo”, Beauvoir afirmou que a maternidade é uma espécie de maldição que pesa sobre a mulher, tornando-a “escrava da espécie” e confinando-a ao domínio da imanência. Ela desprezava a vocação materna com todas as suas forças e acreditava que qualquer possibilidade de transcendência feminina dependia da saída e do abandono do lar. Em certa ocasião, esse ícone do feminismo foi capaz de dizer a seguinte frase:
“Nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa e criar os filhos. A sociedade deveria ser totalmente diferente. As mulheres não deveriam ter essa escolha, precisamente porque se a tiverem, muitas vão fazer isso.”
Guardadas algumas pequenas diferenças individuais que não afetavam o conjunto da obra, as feministas da segunda onda comungavam dessa visão estreita de liberdade feminina e nutriam a mesma aversão à maternidade e ao trabalho doméstico. Elas ignoraram por completo, ou fingiram ignorar, o aporte de inteligência, vigor e inspiração necessário ao trabalho cotidiano de uma boa mãe. Não compreenderam que não pode haver maior expressão de poder criativo do que fomentar, dia após dia, noite após noite, durante anos a fio, a existência de outro ser. Aliás, elas não foram nem sequer capazes de enxergar a maternidade como uma responsabilidade social de amplas consequências. E assim, com base na opinião de mulheres nada razoáveis, que projetaram a imagem de uma nova sociedade movidas pelos seus ressentimentos em relação aos homens, e olhando apenas para o seu próprio umbigo, foi construída uma ideologia política falaciosa, individualista e autoritária.
Ao tratar a maternidade como um fardo e atacar a figura da “mãe de família”, o feminismo se distanciou do universo feminino e fechou os olhos, de maneira covarde e perversa, para as necessidades das crianças. Fez estragos significativos na vida de pelo menos duas gerações de mulheres, transformando-as em pessoas angustiadas, existencialmente partidas, que correm atrás de um prejuízo que na verdade nunca tiveram. A boa notícia é que mesmo tendo sido impregnadas conceitualmente pelos slogans e palavras de ordem feministas, e a despeito de toda a tensão introduzida em suas vidas, a maioria das mulheres ainda mantêm o coração conectado ao projeto familiar, mesmo que de maneira um tanto quanto aflita. Por outro lado, não podemos deixar nos perguntar: até quando a feminilidade resistirá a tantas forças antagônicas?
Nos últimos anos, temos assistido a uma intensificação do proselitismo feminista em novas bases, com a introdução da ideologia de gênero no domínio da educação das crianças. Talvez pelo fato do discurso da auto vitimização e da acusação aos homens não ter sido suficiente para tirar as mulheres da rota do casamento e da família, a estratégia foi modificada e aprofundada. Na pauta feminista atual, influenciada pelo desconstrucionismo radical de autores ligados ao Movimento Queer, como Judith Butler, inclui-se o objetivo de solapar os próprios fundamentos da auto identificação sexual das meninas, privando-as do acesso a conceitos, imagens e símbolos que lhes permitam dar sentido cultural e expressar de maneira positiva a sua condição feminina.
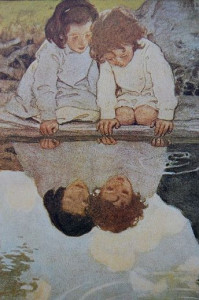 Essa agenda está em andamento. Em muitos lugares, as meninas já não têm mais modelos positivos de feminilidade para imitar. Não podem mais se vestir de princesa, cuidar da boneca ou brincar de casinha sem que isso seja politicamente problematizado. Não devem dizer que sonham em se casar e ter filhos, sob pena de serem ridicularizadas. Só têm acesso a formas de literatura que questionem os chamados “estereótipos tradicionais”. E estão crescendo sem recursos cognitivos e culturais que lhes possibilitem desenvolver uma percepção clara de si mesmas como meninas e futuras mulheres. Aliás, em algumas escolas, já não se usa mais pronomes femininos para se referir a elas. Com tantas mensagens e injunções contrárias, é bem possível que, de tão sufocada, um dia a sua feminilidade natural já não tenha mais forças para emergir e direcionar suas escolhas.
Essa agenda está em andamento. Em muitos lugares, as meninas já não têm mais modelos positivos de feminilidade para imitar. Não podem mais se vestir de princesa, cuidar da boneca ou brincar de casinha sem que isso seja politicamente problematizado. Não devem dizer que sonham em se casar e ter filhos, sob pena de serem ridicularizadas. Só têm acesso a formas de literatura que questionem os chamados “estereótipos tradicionais”. E estão crescendo sem recursos cognitivos e culturais que lhes possibilitem desenvolver uma percepção clara de si mesmas como meninas e futuras mulheres. Aliás, em algumas escolas, já não se usa mais pronomes femininos para se referir a elas. Com tantas mensagens e injunções contrárias, é bem possível que, de tão sufocada, um dia a sua feminilidade natural já não tenha mais forças para emergir e direcionar suas escolhas.


