
Uma das falácias que geralmente encontramos em qualquer debate ou discussão sobre o que deve ser feito, sobre o que é melhor ou preferível, ou mesmo o certo a se fazer, é a de reduzir toda a complexidade da realidade a uma disjuntiva: ou isto ou aquilo, ou preto ou branco, ou fica em casa ou morre, ou morre por vírus ou morre de fome…

Em 1947 foi publicado o livro A Peste de Albert Camus que descreve como uma epidemia de peste vai tomando conta da cidade de Orán, no Norte da costa africana. Camus tinha nascido na Argélia, ainda sob dominação francesa, e, dez anos depois da publicação dessa obra, recebeu o prêmio Nobel de Literatura, em grande medida, por ter se debruçado sobre os problemas de consciência que afetam os homens na sociedade contemporânea.
É como se Camus tivesse sido um profeta de tempos sombrios e futuros, que acabam de chegar agora. O livro é bem curto e sua leitura…, bem, sua leitura é rápida, sim, mas deixa marcas profundas. Uma delas, talvez a mais indireta e pouco evidente, seja a que me provocou o título do artigo.
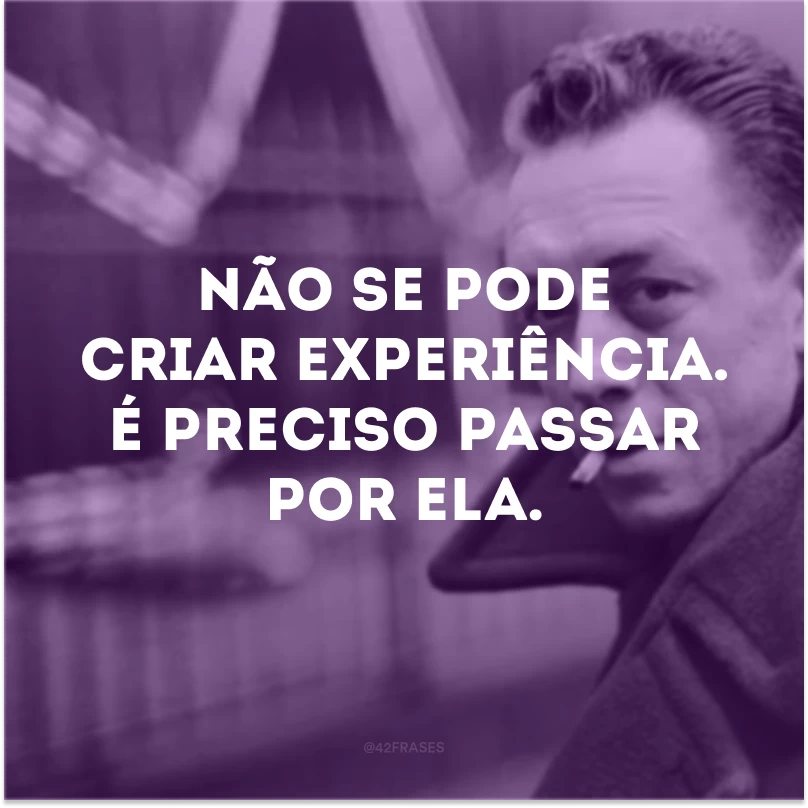
Há muitas vozes em Orán. Muitas vozes, muitos discursos e muita, mas muita incerteza. Ninguém sabe mesmo se as coisas são ou não são assim. Tem a voz da ciência, que, aliás, não é bem da ciência, mas de alguns médicos e cientistas, mas não são unânimes e não dão a garantia de 100% que todo o mundo quer, porque, afinal, estamos falando de gente querida que morre, e de gente mal amada que também morre. E de gente que vive e não se sabe bem por quê…
Há gente nobre e gente canalha. Há gestos de uma grandeza ímpar e gestos que dão nojo. E há desespero, muito. Porque nunca antes ninguém tinha vivido, nem sequer imaginado ter de viver assim: confinados, fechados, separados, sem um abraço, sem um beijo, sem um oi, sem… É humano isso? E o vírus quer saber do que venha a ser humano? E nós, queremos saber?
Já é um lugar comum falar do “novo normal” quando tudo isto acabar. Gostaria de apontar para um lugar que nem sempre se fala e que, acredito, melhorará muito a tal da nossa qualidade de vida quando voltarmos ao “novo normal”. Trata-se do que gostaria de chamar o “espaço da retórica”. É um espaço que umas vezes se alarga e facilita a nossa qualidade de vida, e outras a encurta e a dificulta.
Em Orán, houve um primeiro momento em que as pessoas simplesmente não acreditavam no que estava acontecendo. É mais ou menos – diz Camus – o que se passa e se pensa quando se entra no meio de uma guerra. Não é possível. Não vai durar muito. Seria muito idiota. De fato, a guerra é muito idiota, o que não a impede de durar muito.

Os cidadãos de Orán não queriam acreditar, porque não era possível que estivesse acontecendo uma coisa dessas: Não acreditavam nos flagelos. O flagelo não está à altura do homem. Diz-se então que o flagelo não é real, que é um sonho mau e que vai passar. Mas nem sempre ele passa, e de sonho mau em sonho mau, são eles, os homens, que passam…
O problema, naquele momento, não estava na peste, estava nas pessoas que não estavam se entendendo simplesmente porque nem todos pensavam da mesma forma. E não havia como saber o que é que de verdade estava acontecendo.
Havia os racionais teóricos: o único que precisa é reconhecer claramente o que precisa ser reconhecido. E, feito isso, tomar as precauções devidas. Parecia fácil, mas a questão era que nem todos os médicos pensavam da mesma forma, alguns ainda não estavam convencidos de que fosse mesmo a peste. E outros discordavam em quais precauções seguir. E ainda havia os políticos, aqueles que teriam de comunicar as medidas ao público e, então, aí a tal da razão desandava, ou melhor, cada um falava uma coisa diferente e parecia que nunca se chegaria a um acordo. O importante – disse alguém – não é se essa maneira de argumentar é boa ou não, mas que estamos sendo obrigados a refletir.
Como disse, já ouvi muitas coisas boas sobre como vai ser diferente depois de tudo isto, mas até agora ainda não ouvi falar sobre essa necessidade de refletir, de ouvir, de matizar, de prestar atenção nas nuances, de perceber que, diante de algo que ultrapassa a percepção humana, diante da incomensurabilidade do fenômeno, seria muito bom experimentar não reduzir os argumentos a um único ponto de vista, seria ótimo acostumar-se a ouvir até o fim o que o outro está nos dizendo, antes de jogar-lhe um “cala boca” em favor disto ou daquilo.
Tão ruim e perverso é gritar e exigir um “cala boca” quando se fala em ficar em casa, como quando se argumenta que talvez seja melhor ir trabalhar ou, ainda, que talvez haja alguma solução intermediária entre uma coisa e outra… O espaço da retórica precisa ser alargado se quisermos viver num mundo democrático e uma das formas de alargá-lo é ouvir quem quiser falar, discutir e debater os argumentos de cada um e saber que nem sempre teremos todos os dados na mão e que, portanto, haverá várias formas diferentes de viver e agir com prudência e dentro de uma certeza provável.
Não é possível que só existam duas únicas opções diante de um flagelo de tamanhas dimensões. O problema, como em Orán, fica exasperante quando são dadas apenas duas únicas opções: ou pão ou ar…
As medidas começaram a ser tomadas pelo Prefeito. Pouco a pouco, sempre esperando que acabasse logo, mas…não. A peste parecia estar ficando à vontade nas praias de Orán. E o que no começo eram algumas medidas preventivas, mais ou menos suaves, logo depois começaram a ser cada vez mais draconianas. É claro: o Prefeito fazia pelo bem de todos e esperava que todos entendessem a necessidade…. E, sim, no começo foi fácil entender a necessidade, mas à medida que a peste ia cobrando mais vidas, e que o tempo de confinamento e isolamento já não era mais de um mês, nem de dois, nem de três…, os doentes começaram a ficar receosos, os familiares mais ainda, as “salas equipadas” estavam ficando lotadas, o cemitério, então, ainda havia lugar, o que não havia era tempo para enterrar, nem coveiros para fazer o serviço….
De fato, um flagelo está acima das forças humanas…Foi a época dos relatórios, dos informes, dos avisos…de Orán para Paris, de Paris para Orán…e parecia uma outra pandemia….ninguém conseguia entender-se, ninguém conseguia ter certeza dos números de mortos, nem de contagiados, nem de leitos, nem…
Será que era porque não se sabia? Será que era porque não dava tempo de contar diante de tanto esforço, tanto trabalho e tão pouca gente em condições de enfrentá-lo? Porque o pior….o pior era que aqueles que eram mais solidários, aqueles que ajudavam os doentes, aqueles que mais se dedicavam aos outros, eram os primeiros a morrer…os médicos, os enfermeiros, os de bom coração…

Declarem o estado de peste! Fechem a cidade! A ordem chegou finalmente de Paris. E, então, foi como se a salvação estivesse à volta da esquina. Seria, então, só uma questão de tempo, de pouco tempo, provavelmente. Agora que as medidas necessárias finalmente foram tomadas…. Mas não foi assim. A Peste continuava cobrando vidas, e o desespero, e o medo, e a desesperança, e o sem sentido iam tomando conta de um em um, de três em três, de todos de uma vez por todas! De repente, percebemos que estávamos todos no mesmo barco…E a separação foi tão súbita que não estávamos preparados…De repente, era como se todos fôssemos obrigados a agir como se não tivéssemos mais sentimentos…
E depois que se passaram não três nem quatro meses, mas oito ou nove, as pessoas já não reagiam mais da mesma forma, já não havia aquele pensamento único que fazia que todos aceitassem ordens excepcionais, rígidas e draconianas… Era como se, de repente e de uma vez, cada um começasse a perceber que nem todos eram iguais nem pensavam da mesma forma. Mesmo que o medo tomasse conta de todos e de cada um, nem todos reagiam da mesma forma… Em algum momento desses meses, começava a aparecer a possibilidade de que talvez fosse mais longa essa espera. Mais longa quanto? Alguns diziam que mais algumas semanas, outros mais alguns meses…., outros, ainda, porque não, um ano ou talvez mais…

Como sobreviver a isso? Como entender-se? O que se pode responder a alguém que pergunta quando é que voltamos ao normal? Que consolo pode ter quem, pelas suas condições, pelas suas circunstâncias, que são bem diferentes das dos outros, simplesmente nos diz que não aguenta mais?… E, então, o desmoronar da coragem, da vontade e da paciência era tão brusco que lhes parecia que não poderiam jamais sair desse precipício…
Como o ser humano é complexo, não é? – parece perguntar-nos Camus, com um olhar entre malicioso, cético e cúmplice.
Era a reação de seres humanos assustados, temerosos, que não suportavam mais, que esvaíram a sua capacidade de sofrer e de ter paciência. Era uma maneira de enganar a dor e de baixar a guarda para recusar o combate. E assim encalhados a meia distância entre esses abismos e esses cumes, mais flutuavam que viviam, abandonados a dias sem rumo e recordações estéreis, sombras errantes…

Uma nova dor tinha invadido os corações dos habitantes de Orán. Uma dor que doía mais, muito mais. Experimentavam assim o sofrimento profundo de todos os prisioneiros e todos os exilados, ou seja, viver com uma memória que não serve para nada…. Gostariam de fazer tudo o que não tinham feito por aqueles de quem agora estavam separados, mas… E o pior de tudo era que não se tratava na verdade de um exílio assim em geral. Era um exílio em casa. E isso queimava. Isso desesperava. Isso esmagava.
Chegavam remédios de Paris, remédios e mais remédios, mas não adiantavam. De nada serviam. E os números de mortos aumentavam. E os dos contagiados. E os médicos …Os médicos estavam exaustos, diante de um prefeito desorientado…Como sempre, não se sabia nada de nada.
E aí estava o problema. Não se sabia nada de nada. Como Camus dizia com amargura, é fácil saber que dois e dois são quatro, mas o que se tinha que decidir era como lutar contra a peste e alguns diziam que nada servia para nada, e outros, que era preciso fazer qualquer coisa, e outros, que era melhor não sair, e outro, que melhor seria…E o mais desesperador de tudo isso é que não parava, que cada um dizia uma coisa e que, à noite, o rádio enchia o ar com mais palpites, mais vozes de ânimo ou de desânimo, mais desorientação, mais angústia…

E, então, a peste que até então tinha cobrado as suas vidas da periferia de Orán, começou a adentrar-se nas casas e nas ruas do centro e da parte nobre da cidade. E também nas prisões. E foi a partir desse momento que ninguém mais se entendia. Começaram os incêndios, as revoltas, as brigas, as raivas…A única medida que pareceu impressionar os habitantes foi a instituição do toque de recolher. A partir das onze, mergulhada na noite completa, a cidade tornou-se de pedra. E, pouco depois, não se podia mais enterrar como sempre os próprios mortos. Não podia haver mais despedida, nem mais luto, nem cerimônias fúnebres, nem orações, nem enterros como sempre se fizera.
Houve uma mudança que foi extremamente perturbadora. Nosso amor, sem dúvida, estava presente, mas simplesmente era inutilizável, pesado, inerte, estéril… Não era mais que uma paciência sem futuro e uma espera obstinada… A peste tinha a cidade sob o seu domínio.
E foi então, precisamente então, que a peste perdeu a batalha. Não foi uma vitória da cidade, nem de todos os cidadãos. Aquilo não era uma luta como todas as outras lutas. Não era uma guerra, nem uma batalha. Se fosse, seria de proporções humanas. E haveria um vencedor e um vencido. Mas era a peste. Um flagelo, um sonho mau… Aquilo era, realmente, um flagelo que ultrapassava o homem.
E foi nessas circunstâncias de derrota completa que alguns homens souberam extrair o melhor de si. Tornaram-se solidários. Passaram a ouvir. Passaram a conversar. Passaram a cuidar. Passaram a confiar. Não todos. Não a cidade. Alguns. Outros, não. Mas nem por isso foram julgados ou condenados. Os que extraíram o melhor de si souberam aplicar o bálsamo da bondade naqueles que só encontravam dentro de si o “menos melhor”… Estavam empenhados em compreender os outros.
Camus tenta dar não uma solução, porque não há, mas uma luz, que acredito poderá servir-nos para o “novo normal”. Camus descreveu como alguns daqueles homens continuaram desvivendo-se pelos outros e como procuraram não julgar, mas compreender as situações dolorosas e as atitudes incompreensíveis. E como alguns morreram ao cuidarem e compreenderem os outros. E como alguns sobreviveram…

Afinal, o que se pode responder a quem nos lança de forma verdadeira e dramática essa questão: pão ou ar? Será que não seria melhor, em lugar de colocar um clichê desqualificando a pessoa (fica ou sai), tentar ouvi-lo e tentar junto com ele encontrar, se não uma outra alternativa, pelo menos ouvir que nos conte por que é que acha mesmo que a dele é melhor? Pode ser até que nenhum dos dois tenha toda a razão e talvez os dois juntos encontrem uma melhor forma de responder a algo que está acima da compreensão do humano.
Título: A Peste
Autor: Albert Camus
Editora: Record, 26ª edição, 2017
